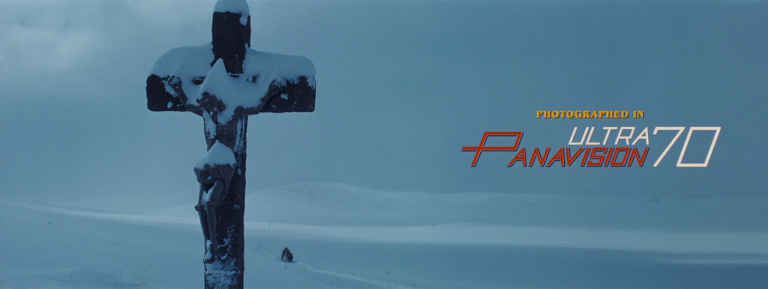É bastante comum ouvir, de críticos a fãs, que o cinema de Quentin Tarantino existe num universo próprio, uma colcha de retalhos de filmes, músicas, quadrinhos, programas de TV e referências diversas costuradas pelas linhas de uma memória afetiva hiperativa – e que sua própria obra se comunica através de personagens interligados, citações visuais, casting, merchandise (marcas de cigarro, cadeias de fast food), arcos narrativos. Essa descrição, se descontextualizada, poderia ser endereçada a um jovem Godard dos anos 60, mas se este surgia num momento em que as formas de fazer e pensar o cinema ainda estavam em ebulição, se sua metralhadora giratória de citações forjava um caminho ainda não percorrido, o de uma primeira geração que já via a imagem do cinema como História, Tarantino chega a posteriori, depois de Godard, depois de Sergio Leone entortar a curva do western, de Brian de Palma (só para citar três de seus heróis) dar contorno ao que se entendeu por maneirismo cinematografico – a criação que é ao mesmo tempo distorção e reflexão sobre uma uma obra que já atingiu a plenitude, o original e a crise da forma. A geração de Tarantino já recebe tudo isso decodificado e, para além do cinema, já tem a TV e o home video como parte integrante e decana de sua formação cultural. Seu approach com as matrizes é muito mais de ordem intuitiva do que intelectual, as influências surgem como trocas no controle remoto que vai de um trecho de filme a outro, daí para um talk show, uma série, um videoclipe, um comercial. Seu cinema é quase um pós-cinema.
Seguindo esse conceito de universo particular, podemos dizer que a sua obra até então divide-se em três blocos: no primeiro, que vai de “Cães de Aluguel” a “Jackie Brown”, a diegese é erigida sob uma imagem de submundo da Los Angeles da década de noventa; o segundo, dos “Kill Bill” e “À Prova de Morte”, entrega-se completamente a um mundo que só existe dentro do cinema, onde locais são mais referência a um imaginário de cinema do que espaços propriamente ditos (em “À Prova de Morte”, até a matéria fílmica tem participação ativa no processo de desvelamento desse universo – os arranhões, poeiras e rasgos na película fazem parte da imagem que vemos, os frames queimados e “erros” de projeção alteram a montagem das cenas, etc); já no terceiro, e num movimento oposto, é o seu universo que vai ao encontro de um contexto histórico – tanto “Bastardos Inglórios” como “Django” são filmes de vingança que buscam a redenção (dos personagens e consequentemente do público) através do revisionismo. Essa iniciativa de reescrever a história é um tanto comprometedora, especialmente à sua maneira, ignorando fatos e resolvendo conflitos com banhos de sangue pelo simples prazer da desforra, da catarse. Corre-se o risco de transformar o filme em chantagem emocional, de idiotizar assuntos e personagens em troca de um fim justificável, de não ter limites quanto ao material abordado, freios que modulem e enriqueçam a narrativa. O sucesso de publico de “Bastardos” acabou levando à hipertrofia de “Django”, seu filme mais descontrolado e confuso. Como romper com essa sequência de clímaxes, como encerrar esta terceira fase?
Tarantino chega a seu nono (“oitavo”) filme vislumbrando um esgotamento da própria forma: “Os Oito Odiados”, assim como seus dois outros filmes de transição (“Jackie Brown” e “À Prova de Morte”), investe numa narrativa mais linear, sem elipses temporais em zigue-zague, múltiplos pontos de vista e outros artifícios narrativos, sendo sem dúvidas aquele que exige mais cumplicidade do espectador – o espaço/tempo é condensado de modo que os personagens se encontram por 3/4 da duração juntos no mesmo local. A carga política de “Django” (especialmente em relação a questões raciais – Samuel L Jackson, seu personagem/orador fetiche, parece endereçar aos conflitos de hoje ao proferir frases como “You’ve got no idea what it’s like being a black man staring down America”) segue presente, mas aqui o diretor se desvencilha de associações a personagens e eventos, usando um período e local (os Estados Unidos “aproximadamente dez anos após a guerra civil”) como pano de fundo para desembrulhar seu microcósmico conto sobre o mito de formação da sociedade Americana.

76 anos antes, um certo John Ford oferecia sua visão em “No Tempo das Diligências”, onde um grupo de passageiros (alguns honoráveis, outros nem tanto) aglutinados numa diligência em terrenos inóspitos precisava superar suas diferenças e idiossincrasias para conseguir chegar a seu destino. Ali, ainda que em meio a comportamentos vis, tínhamos um lastro de sociedade que podia funcionar, aprendendo noções de respeito e companheirismo. No fim das contas, porém, os personagens mais nobres eram os excluídos, os underdogs, e assim que chegam à cidade, tomada por violência e corrupção, o fora-da-lei e a prostituta são libertos da prisão e enviados pelo xerife para a fronteira do Mexico, onde, nas palavras do próprio, estariam “salvos das bênçãos da civilização”.
Se para Ford na década de 30 alguma coisa já estava fora de ordem, as sete décadas seguintes trouxeram a Tarantino uma visão muito mais encrudescida e niilista. Não há mais espaço para nobreza e lições de respeito, não há chances de companheirismo, não há esperança: a seus “passageiros” nada resta senão o egoísmo, o vilanismo. São personagens de fato odiáveis, violentos, racistas, misóginos, traiçoeiros. Não há escalonamento moral entre caçadores de recompensa, ex-confederados, rebeldes, prisioneiros e bandidos, estão todos nivelados e por baixo. O “entendimento” entre um negro e um rebelde sulista não é um movimento conciliatório, um sopro de ética afinal, é mera força das circunstâncias. Alianças só são forjadas em torno da desconfiança mútua num terceiro. Há uma preocupação constante em desarmar o outro, uma insistência quase burocrática em cobrar e verificar papéis – palavras aqui de nada valem (e, de fato, a maioria mente). Cada um está por si. Os EUA são o berço do individualismo.
O clima de receio e desconfiança que impregna os personagens e alimenta o mistério é emprestada do filme mais ressoado por “Os Oito Odiados”: “O Enigma de Outro Mundo”, de John Carpenter, que apesar de um remake de “The Thing From Another World” de Howard Hawks, é uma adaptação mais fiel ao conto original “Who Goes There”, onde Carpenter transporta a atmosfera dos “whodunnits” típicos de Agatha Christie para um contexto de paranoia e temor a ameaças biológicas característicos dos anos de guerra fria e acirrados no período Reaganista. Não bastasse remontar o arquétipo do filme (“homens confinados em situação limite, isolados pela neve e ameaçados”), Quentin ainda escala seu protagonista (Kurt Russell) e toma emprestada a trilha sonora, bem como basicamente reedita seu final e reencena alguns de seus planos. Se há porém uma discrepância entre seu cinema e o de Carpenter, é a de que este é um mestre da concisão, onde cada quadro, cada movimento, cada corte, cada encadeamento é milimetricamente concebido para empurrar a narrativa, enquanto aquele é praticamente o oposto, um cineasta do tempo em suspensão, da prolixidade: em Tarantino, a maioria da duração é preenchida por tempos mortos – não de silêncios, mas intermináveis diálogos que são divagações, espirais que levam a lugar algum, discussões nada relevantes para o desenrolar de uma trama, sendo as questões narrativas normalmente resolvidas de forma súbita, rápida (não raramente um tiro). São esses diálogos porém que aproximam os personagens do público, que fazem de seus filmes “hangout movies”, que o espectador assiste várias vezes justamente para compartilhar da intimidade, para passar um tempo junto com aqueles sujeitos mais do que necessariamente para ver uma história sendo recontada. Isso naturalmente funciona graças ao talento do Tarantino escritor, e quando falo que aqui a cumplicidade do espectador é mais exigida, é provavelmente pelo fato do diretor estar mais confiante em relação a seu texto, não precisando se apoiar em variações de espaço, tempo e personagens para fazer a engrenagem girar.
O efeito desse espaço-palco onde boa parte do filme se desenvolve foi valorizado pelo formato Ultra Panavision 70 (filme de 65mm, com lentes especiais, utilizado em pouco mais de uma dezena de produções entre a década de 50 e 60 e quase esquecido): ainda que por capricho ou teste de força (“até onde eles vão me bancar?”), a escolha de um formato que oferece um amplo campo de visão (o aspecto do frame é um enorme 2.76:1) faz com que os planos na estalagem/taberna estejam sempre repletos de atores, de movimento. Mesmo quando há um close, podemos ver personagens ao fundo, fora de foco. Essa onipresença de corpos, além da idéia de confinamento, reforça o caráter teatral do espaço fílmico, onde ainda que haja um protagonista em cena, estamos vendo os movimentos e reações dos demais no palco. O próprio ritmo do filme é reduzido: uma vez que o quadro engloba boa parte do espaço, a ação pode fluir mais continuamente, não havendo tanta necessidade de cortes. A decupagem das cenas é alterada, a duração dos planos é maior, a montagem funciona mais como ferramenta de ênfase (closes, reações, detalhes). O uso luxuoso de película 65mm, questionado por muitos por não ter a “monumentalidade” das vistas dos filmes normalmente associados ao formato, entra como exceção às limitações – de espaço, visuais, narrativas – auto-impostas. Nesse aspecto, “Os Oito Odiados” é praticamente uma resposta aos excesssos de “Django” e “Bastardos Inglorios”, e caso tenha sido concebido conscientemente como um teste (e aqui é interessante dizer que ele não descarta a idéia de dirigir para o teatro), o filme é sua carta de aprovação. Que venha o proximo ato.