Finalizando a retrospectiva 2016, uma lista com os 25 melhores discos que ouvi durante o ano (até o primeiro trimestre deste, inclusive). Sempre observando ser uma lista individual, portanto um recorte, e da dificuldade em verticalizar a seleção dessa forma – especialmente num ano onde ouvi tantos lançamentos de interesse. Assim sendo, e como a disputa ficou muito acirrada, para evitar qualquer injustiça deixo ainda os títulos que ficaram entre as posições 26-50 (sem ordem definida).
50-26:
A Tribe Called Quest – We got it from here… thank you 4 your service (Epic), Andy Stott – Too Many Voices (Modern Love), Nicolas Jaar – Sirens (Other People), Carla Dal Forno – You Know What It’s Like (Blackest Ever Black), Huerco S – For those of you who had never (And also those who have) (Proibito), Danny Brown – Atrocity Exhibition (Warp), Oren Ambarchi – Hubris (Editions Mego), JG Biberkopf – Ecologies II – Ecosystems of Excess (KNIVES), Jack Dejohnette – In Movement (ECM), Leonard Cohen – You Want it Darker (Columbia), Daniel Wohl – Holographic (New Amsterdam), Romulo Fróes – Rei Vadio: as canções de Nelson Cavaquinho (Selo Sesc), Ólafur Arnalds – Island Songs (Mercury), Kaitlyn Aurelia Smith – EARS (Western Vinyl), Frank Ocean – Blonde (Boys Don’t Cry), Peder Mannerfelt – Controlling Body (Peder Mannerfelt Produktion), Skee Mask – Shred (Ilian Tape), Yves Tumor – Serpent Music (Pan), Jenny Hval – Blood Bitch (Sacred Bones), The Caretaker – Everywhere At The End of Time (History Always Favours the Winners), Solange – A Seat at the table (Columbia), Matmos – Ultimate Care II (Thrill Jockey), Clima – Monumento ao Soldado Desconhecido (YB), Jherek Bischoff – Cistern (The Leaf Label), GH – Housebound Demigod (Modern Love)

25) Weyes Blood – Front Row Seat to Earth (Mexican Summer)
É como abrir uma casa há muito trancada e ver a poeira gentilmente a subir, refletida pela luz que entra pela janela: arranjos, sonoridade e progressão de acordes direto dos discos de pop/folk/rock do início dos anos 70, vocais à Karen Carpenter, mas uma sinceridade nas composições e na maneira de cantá-las, de tudo ser tão natural e sem esforço que, ao invés de déjà-vu, traz uma nostalgia por algo que não vivemos.

24) Equiknoxx – Bird Sound Power (DDS)
Uma dupla de produtores Jamaicanos apadrinhados pelos Demdike Stare, que compilaram as faixas para o disco (gravações entre 2009 e 2016 que apesar disso soam coesas) e o lançaram pelo seu selo. O interesse se justifica logo nos primeiros segundos: é como se alienígenas resolvessem estudar e dar a sua visão sobre os ritmos da ilha, especialmente o dancehall e o dub. Música avançada sem perder a veia dançante e orgânica, de um frescor que faz lembrar as primeiras produções dos Neptunes e Timbaland.

23) Explosions in the Sky – The Wilderness (Temporary Residence Ltd)
Os trabalhos com trilhas nos últimos 5/6 anos desde o lançamento do último disco parecem ter surtido um efeito de renovação estética: as faixas mais longas, os crescendos e melodias travadas entre guitarras (que por mais bonitas que fossem já começavam a se repetir) cedem espaço a um som mais direto, ao mesmo tempo também atmosférico e experimental: há traços de progressivo, Peter Gabriel e Brian Eno, mas texturas quase industriais e um lirismo do Cure. Seu melhor disco desde “The Earth is not a cold dead place”.

22) Jóhann Jóhannsson – Orphée (Deutsche Grammophon)
A música clássica sempre esteve presente na obra de Jóhannsson, mas a mudança para a Deutsche Grammophon, a maior gravadora do gênero, sugere uma reinvenção: em “Orphée” – não por acaso, usando da temática da morte e ressurreição – o compositor se distancia do minimalismo, da vanguarda e da eletrônica dos discos anteriores e abraça formas mais barrocas, uma presença mais notável de orquestras e cordas complementando seu piano, resultando nas peças mais emocionalmente carregadas de sua carreira até então.

21) Céu – Tropix (Slap)
Se no último disco se desenrola uma espécie de road movie, aqui a caravana de Céu desembarca na cidade, numa varanda a olhar para as luzes que vão sendo acesas. “Tropix” marca uma nova fase, onde os timbres quentes dos três primeiros álbuns cedem espaço a uma eletrônica que toma a frente dos instrumentos mas estabelece uma relação ambígua, uma alma ao mesmo tempo futurista e retrô a transitar pelo cancioneiro nacional (samba, bossa, tropicália, brega) trazendo na bagagem um tanto da música pop universal. Ainda que cantado em português, “Tropix” é um disco para o mundo.
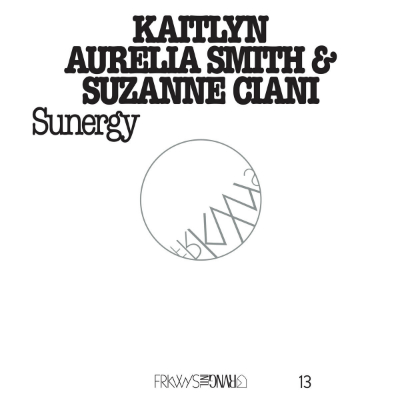
20) Kaitlyn Aurelia Smith & Suzanne Ciani – FRKWYS Vol 13: Sunergy (RVNG Intl)
A série FRKWYS, que reúne aventureiros sonoros de gerações diferentes, aqui promove um encontro entre dois ases da síntese modular: Kaitlyn Aurelia Smith (que gravou outro excelente disco – “EARS” – em 2016) grava na casa de praia da pioneira Suzanne Ciani o encontro de seus sintetizadores com sons da natureza local, e essa simbiose mulher/máquina/natureza parece impregnar as composições cíclicas refletidas/reforçadas pelas ondas do mar. O resultado é um dos melhores discos da série.

19) Marissa Nadler – Strangers (Sacred Bones)
“Assombrosa” é uma expressão comum ao descrever a música de Marissa Nadler, talvez pela voz fantasmagórica que parece ecoar pelo espaço, ou pelo clima das composições, a dor das letras, como um Leonard Cohen embebido em absinto. “Hungry is the Ghost”, das músicas mais bonitas de 2016, mantém esse clima, porém numa chave mais etérea, que caracteriza a produção do disco – um som mais expansivo, com mais instrumentos. Em “Strangers” seguimos transportados a um ambiente medieval, de céu escuro, mas aqui, o canto da sereia nos leva a salvação ao invés da tragédia.

18) Warpaint – Heads Up (Rough Trade)
O Warpaint segue um mistério, uma imagem das mais distintas da última década, dona de um som facilmente identificável mas que ao mesmo tempo não parece com nada a sua volta. “Heads Up” é resultado da depuração das técnicas vocais (há uma triangulação de vozes exemplar na maioria das faixas) e do processo de composição (como as duas guitarras, baixo e bateria interagem) e gravação de uma banda que, a cada disco, parece potencializar sua vocação para a fama e, ao mesmo tempo, seu valor artístico e autoral.
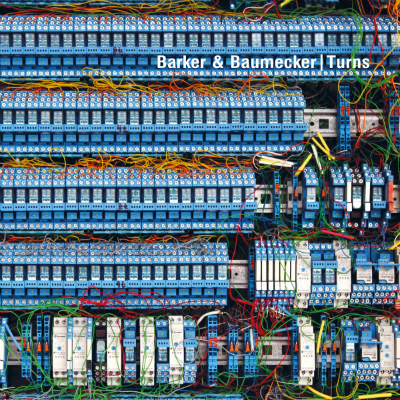
17) Barker & Baumecker – Turns (Ostgut Ton)
A dupla alemã faz música eletrônica que bem poderia ser chamada de mecânica: a bateria chega com tal força que faz parecer uma prensa, as batidas têm a fisicalidade de máquinas trabalhando numa fábrica, porém envoltas por camadas de sintetizadores que articulam tramas ao longo das faixas. “Turns” é um disco dividido, sua primeira metade quase progressiva, músicas que vão se desdobrando em várias seções, enquanto a segunda é mais dura, voltada para a pista – porém, cada parte parece refletir um pouco da outra, abrindo um diálogo.

16) Blood Orange – Freetown Sound (Domino)
É difícil resistir à tentação de comparar Dev Hynes a Prince: compositor, multi-instrumentista, produtor e poster boy de uma sexualidade expandida, Blood Orange, especialmente neste disco, sai da sombra do mestre justamente no gesto de oferecer o holofote às parcerias: “Freetown Sound” é um disco de identificação com as mulheres, que tomam a frente da maioria das músicas e empurram seu conceito temático: a aceitação enquanto negro, mulher, minoria. Pop e black music de uma sofisticação e suavidade que não se via desde os melhores dias de, justamente, Prince.

15) Julianna Barwick – Will (Dead Oceans)
A música de Julianna Barwick é solitária. As múltiplas vozes que são o núcleo de suas gravações têm um espaçamento entre elas que deixa clara a intenção de expor suas entranhas de “banda de uma pessoa só” – sensação de isolamento reforçada ainda pelos longos reverbs, como se estivesse sozinha num grande espaço a refletir, a lidar com seus pensamentos, suas emoções. Ainda que aqui haja uma guinada tonal (mais sintetizadores, menos instrumentos e polidez na gravação), o princípio norteador segue o mesmo. Música para ouvir olhando as estrelas.

14) Powell – Sport (XL Recordings)
“Sport” é praticamente um desdobramento, uma sequência (i)lógica do LCD Soundsystem: o Fall, o Velvet Underground, o Suicide, o punk, a disco music, o interesse por equipamentos obsoletos, o humor cínico são matéria prima de ambos, mas Powell, filho da geração pós-internet, debruça-se mais sobre a música eletrônica, os computadores, os samples vindos das mais diversas fontes, distribuídos de maneira irônica como espelho de um fluxo de informações que não conseguimos mais dar conta – da mesma forma, há um tom de deboche na forma que os sons de teclados, baterias eletrônicas e demais gadgets são arranjados, como se o inspetor bugiganga fizesse uma visita ao CBGB. Não se ouviu disco mais divertido em 2016.

13) Tim Hecker – Love Streams (4AD)
A mudança para a 4AD parece ter exercido uma influência na concepção do disco: o legado da gravadora parece ecoar nos sons (ainda mais) esparsos, na melancolia, no interesse por corais – isso, claro, dentro dos domínios habituais de Tim Hecker, provavelmente o músico eletrônico de assinatura mais característica e reconhecível desde os Boards of Canada e o Autechre. Órgão e instrumentos gravados numa igreja na Islândia e corais (na Islândia e na Mongólia) reprocessados, desfigurados e remontados em camadas sonoras de modo a, assim como na foto da capa, perderem os contornos e tornarem-se apenas formas e cores. Ou, nas palavras do próprio, “o que me interessa é a idéia de corromper a música sacra”.

12) Skepta – Konnichiwa (Boy Better Know)
Comentários sobre o disco aqui .

11) Demdike Stare – Wonderland (Modern Love)
O Demdike Stare habita um canto escuro da música eletrônica. Os ritmos dançantes, quando existem, logo são retorcidos, ou entram num ciclo de repetição que parece travar os movimentos – e aos poucos vai sendo engolido por ambiências, distorções, como se a batida se perdesse pelo espaço e voltasse como feedback. Esse senso de espaço os aproxima do black metal (não raro as atmosferas são de filmes de terror) e do dub (o interesse pela ressonância nas paredes, pelos efeitos que a arquitetura impõe à trajetória do som, pela repetição), mas em “Wonderland” também há um flerte com vertentes mais amigáveis da eletrônica, como se um strobo piscasse muito lentamente à distância, jogando breves flashes na sombra enfumaçada.

10) Maja S.K. Ratkje – Crepuscular Hour (Rune Grammofon)
Um vértice entre a música clássica e o noise, “Crepuscular Hour” é a representação em disco de um espetáculo onde três corais e três pares de músicos de noise espalham-se ao redor da platéia, com um órgão no centro, resultando numa impressionante distribuição espacial de cada elemento – a imersão, a sensação de estar envolto é essencial para a fruição da peça. A relação entre as cordas vocais e os ruídos gerados pelos eletrônicos varia ao longo da composição, podendo sugerir uma mistura, harmonia entre as partes ou tensão – até que, ao fim da composição, o orgão se impõe como um deus ex machina, encerrando uma narrativa de relação entre luz e sombra, céu e trevas.

9) Rakta – III (Nada Nada Discos)
A primeira palavra que vem a cabeça ao ouvir o trio paulistano é força: força física, corporal, força da mulher, mas também aquela força externa, intangível, de captar uma energia no ar e direcionar ao ouvinte, que a sente antes de qualquer assimilação cognitiva. Música que precede o intelecto, sensorial, catártica, de transe – uma grande fogueira ritualística onde xamãs com árvore genealógica que começa no Pink Floyd (de “A Saucerful of Secrets” até “Meddle”), passa pelo Joy Divison/Public Image Ltd até chegar no Primal Scream de “XTRMNTR” se comunicam com os ancestrais através de batidas hipnóticas (baixo e bateria são quase uma só pulsão percussiva), enquanto sintetizadores, distorções e efeitos fazem as chamas subirem alto. Da ordem do inexplicável.

8) Angel Olsen – My Woman (Jagjaguwar)
Buscando um público mais diversificado (ou diversificar sua própria imagem), Angel Olsen opera uma manobra arriscada, se afastando das músicas onde os acompanhamentos eram mínimos e sua voz se destacava (os melhores momentos de seus discos anteriores) e investindo na presença de uma banda completa. As duas músicas que abrem os lados do disco são exemplares: no primeiro, um sintetizador anuncia um rompimento, que as músicas seguintes consolidarão – o fim da imagem de cantora lo-fi e introspectiva; no segundo, uma longa faixa que, se ouvida de relance, pode soar como uma canção do Fleetwood Mac ou uma jam de Neil Young – uma verve pop/classic rock da década de 70 que sempre esteve em seu sangue mas aqui aflora, deixando-a pronta para ganhar a estratosfera. Nasce uma estrela.

7) PJ Harvey – The Hope Six Demolition Project (Island)
Conforme dito aqui, o disco de PJ Harvey só se revelou completamente depois de assistido o show – talvez pelo complemento visual de uma idéia que não tinha ficado clara: a da repaginação de uma identidade, que começou em “White Chalk” com o revisionismo de uma música folclórica/gótica e chega aqui trazendo uma leitura idiossincrática da música de raiz britânica e americana, acompanhada de uma banda que é meio big band, meio banda de marcha, sua voz triunfando em meio a vocais masculinos como uma rainha de uma outra dimensão – ainda que esta tenha um tanto da falência civilizatória do universo de “Mad Max”, através do discurso pelo olhar incrédulo e impotente diante da ruína que viu entre viagens a Washington, Afeganistão e Kosovo. Um disco único, o mais subestimado do ano.

6) Eluvium – False Readings On (Temporary Residence Ltd)
Matthew Cooper é um maestro, conduzindo uma orquestra que para além de cordas, sopros, vozes e percussões, também conta com um combo de guitarras, distorção, sintetizadores, drones e sons de fita desintegrando – uma orquestra que começa na música clássica mas trafega pelo post rock, a música eletrônica, o My Bloody Valentine, o ambient, até chegar em William Basinsky. Em “False Readings On”, esse fluxo pretende dar conta de um conceito de dissonância cognitiva, algo como a dificuldade em diferenciar o que se acredita (a idéia) da realidade. As camadas de distorção inseridas por vezes parecem dissolver os instrumentos, auxiliando na caracterização desta zona cinza entre realidade, emoção e sonho, ao mesmo tempo que a dinâmica entre as fontes sonoras gera descargas de energia, pulsões neste campo de batalha entre o ego, o id e o superego que o disco também encena. Das mais belas caracterizações musicais da dor e da beleza de estar vivo.

5) Anohni – Hopelessness (Secretly Canadian)
“Desesperança” é de fato a síntese do disco: aquecimento global, devastação da natureza, morte de animais, tortura, execução pública, guerra, mísseis de drones e desilusão política são temas recorrentes, uma espécie de inventório de um mundo pós-moderno à beira do colapso – e é nessa chave que Anohni/Antony parece encontrar a verdadeira vocação para sua voz, capaz de transmitir uma sensação de raiva/impotência/desespero/lamento, não raramente ao mesmo tempo, sob bases eletrônicas (seguramente entre o melhor da produção de Hudson Mohawke e Daniel Lopatin/Oneohtrix Point Never) que, ao espelhar essa idéia de pós-modernidade, parecem aprisioná-la nesse mundo contra o qual se debate, tenta se insurgir. A força do disco está justamente neste conflito, do eu contra um sistema do qual faço parte, das boas intenções contra as ações/vontades. O disco mais “2016” de 2016.

4) Roly Porter – Third Law (Tri Angle)
Assim como uma sonda espacial, a música de Roly Porter parece cada vez mais se distanciar de uma região coberta por nossos satélites, explorando novos sistemas, novas formas. A “terceira lei” (a de Newton, “ação/reação” etc) do título é uma idéia que ilustra as forças que regem o disco – som e silêncio, distorção e clareza, movimento e inércia, luz e escuridão, destruição e regeneração – bem como da energia que resulta do choque entre elas: em algum momento, parecemos passar do vácuo à explosão e nascimento de uma estrela. As referências a física e ao espaço não são aleatórias: como a capa e o título indicam, trata-se praticamente de um disco de ficção científica – e não é por acaso que, logo na primeira faixa, que esteve entre as favoritas do ano, a técnica de entortar as vozes de um coral é semelhante a do compositor clássico-vanguardista Györgi Ligeti usada na cena do monolito em “2001”. Assim como o filme de Kubrick, “Third Law” parte de uma idéia científica para chegar ao desconhecido, passando pelo drama, o suspense, a catarse, navegando mares metafísicos e de desorientação temporal.

3) Radiohead – A Moon Shaped Pool (XL Recordings)
O Radiohead consegue, em uma música, construir mais climas e texturas do que muitos artistas em um disco (até uma obra inteira). Trata-se de uma banda inquieta, sempre em busca de uma sonoridade, cada disco trazendo elementos dos anteriores e os levando a outro lugar. O entrelaçamento da orquestração (as trilhas de Jonny Greenwood nos últimos anos) com a eletrônica do trabalho solo de Thom Yorke é aqui um traço visível deste processo evolutivo – e a presença de composições mais antigas que não haviam sido gravadas e não soam em nenhum momento deslocadas só atesta este caráter lapidar, uma letra ou melodia adaptadas a um novo contexto de acordo com o arranjo que vai sendo esculpido, da mesma forma que cada álbum, ainda que represente uma nova fase, mantenha uma coerência, um diálogo. E se “King of Limbs” representou um passo para a discrição, um disco low-profile, “A Moon Shaped Pool” retoma uma grandiosidade talvez não vista desde “Kid A”: uma banda sem receio de seu tamanho, de soar épica, de se expor, de se fragilizar e até se machucar. Chamem de desequilibrado – e o que dizer de um disco que encerra com um “don’t leave” entre o desespero e a resignação? – mas é dessa franqueza que nascem as grandes obras de arte.

2) David Bowie – Blackstar (Columbia)
Em seus momentos mais inspirados, Bowie sempre pareceu gozar de um faro para antecipar um zeitgeist, de fincar no inconsciente coletivo uma placa de marco zero (ainda que não necessariamente o tenha sido) de uma nova tendência, uma nova estética – e aqui, depois de ter por muito tempo perdido a corrida contra o novo, consegue retomar a dianteira e adianta a (não) existência após a morte. “Blackstar” não é um “disco-testamento”, mas uma resposta de um Major Tom num estado pós-matéria, falando por vezes do espaço, ou de um plano astral, ou do vazio. Há que se considerar esse “conceito” não como mera idéia ou fio condutor, mas como o próprio processo de criação de um homem lidando com sua iminente mortalidade – e no caminho acertando (e assentando) praticamente todas as formas com as quais experimentou sem muito sucesso nas últimas quase quatro décadas (a faixa-título é notável neste aspecto, um tour de force desses estilos, andamentos, sonoridades), sem em nenhum momento parecer revisionista. Mais de um ano depois, continua um disco misterioso, que revela detalhes escondidos assim como aqueles que estão em sua parte gráfica. Nunca na história da música gravada estivemos expostos desta forma a uma obra que aproxima a poeira de tempo que chamamos de vida a vastidão da eternidade.

1) Nick Cave and the Bad Seeds – Skeleton Tree (Bad Seed Ltd)
A tragédia da perda do filho, ocorrida quando as gravações do disco já haviam começado, acabou por remodelar tudo o que viria a ser feito a partir dali: a dor da perda e a ausência que se faz sentir presente estão em cada nota tocada, em cada sílaba entoada, em cada reverberação dos sons pelas paredes do estúdio. O microfone, mais do que a câmera, consegue capturar as energias que a atmosfera transmite, e se o disco já fora concebido como um passo adiante nas experimentações com o clima e arranjos minimalistas de “Push the Sky Away”, aqui a instrumentação pouco intrusiva e a enorme sensação de espaço convidam o ouvinte a se aproximar, a compartilhar daquele momento de fragilidade – e Nick Cave nunca esteve tão vulnerável, a ponto de se imaginar que possa ter chegado às lágrimas ao final de certos takes. Vemos portanto uma ressignificação, não só da execução e conceito como das próprias letras – e se estas sempre tiveram um forte potencial imagético (graças a um repertório que passeia pela bíblia, pela mitologia, pelas lendas do blues e do western), aqui este também é potencializado graças a estes arranjos, pianos flutuando entre drones e ruídos eletrônicos, por vezes entrecortado por cordas e synths, como uma sala de luz baixa, com ar opiáceo, onde se pode recostar e deixar essas imagens fluirem. Estruturado como um filme, para onde todas as energias de um momento difícil foram canalizadas, “Skeleton Tree” tem os 40 minutos mais densos do ano, onde um cantor acostumado a encenar histórias e personagens passa ele próprio por enfrentamento, questionamento, desilusão e graça, até a constatação final de que o luto é uma sensação que irá carregar junto a alegria, a tristeza e as demais energias acumuladas durante o ciclo da vida. “But it’s all right”, canta ele, ainda um tanto anestesiado mas vendo o dia tornando a nascer. Resistir e seguir em frente. Obra-prima.
